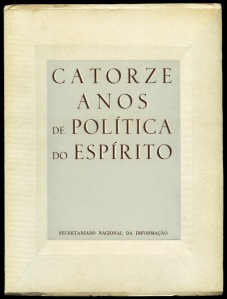
[exemplar de época disponível na Frenesi]
O comunismo: durante o Estado Novo, Salazar chegou-se à frente incontáveis vezes para anunciar que não consentiria ver Portugal por aquele «escravizado» – assim mesmo o escreveu. Nos seus discursos, o ditador referia constantemente esse devaneio que atacava as melhores famílias, os mais insuspeitados funcionários públicos, e também a melhor gente do povo. O Mundo, constatava em voz alta, estava minado por forças subversivas que se propagavam como fenómenos religiosos, até mesmo quando a sua doutrina assentava em princípios puramente materialistas e confessadamente ateus, como o comunismo.
O comunismo não era como o liberalismo ou o socialismo, antes fosse, suspirava. O comunismo era uma praga que se disseminava, tornando-se muitas vezes num assunto dominante nas agendas de discussão da política externa entre os Estados. Alguns dirigentes políticos e governantes, homens de superior inteligência, inexplicavelmente acabavam por aceitar o comunismo, considerando-o como um estádio fatal da evolução das sociedades humanas. Por isso faziam um lugar para o comunismo no xadrez das forças políticas dos seus países. Em Portugal o comunismo jamais teria favores de benefício da dúvida, e muito menos um lugar, rematava Salazar.
Agindo em conformidade, o regime dedicou-se a uma perseguição sem tréguas aos que se filiavam no Partido Comunista Português, encarcerando-os nos calabouços medievos do Tarrafal, de Peniche, do Aljube, de Caxias. No Forte de Santarém inundado pelas águas do rio, os presos políticos eram metidos dias a fio em celas subterrâneas parcialmente submersas – e mais tarde, acaso não morressem logo ali, devolvidos às famílias já meio-estropiados – porém por tempo certo: o tempo de a PIDE lhes seguir os passos, de os recapturar e apanhar pela mesmo ocasião mais um ou outro suspeito de comunismo.
Chegados a 1975, durante o período mais excêntrico da História recente de Portugal (excentricidade que foi o reverso da medalha da criminosa repressão a que o Estado Novo submetera o País), o triunfalismo do PCP atingiu todos os sectores da sociedade, sacudindo os pilares em que se havia sustentado por tão longo tempo. Obnubilados por uma apoteose ilusória, os comunistas portugueses (de fileiras subitamente adensadas pela queda do anterior regime), tentaram abalançar-se ao poder de Estado e correu-lhes mal. Por pouco não viam o seu partido ilegalizado, como pretenderam alguns, mas não deixaram outros que consideraram (e bem) «que a democracia implica[va] a integração do adversário» (Melo Antunes). Ramalho Eanes pensa que essa declaração assinalou a instauração do Estado de Direito democrático em Portugal.
Passadas quatro décadas, por causa do que foram todos esses anos (e sobretudo do que não foram), tenho a nítida sensação de estar a assistir a uma lamentável regressão, suscitada sem dúvida por uma quantidade absurda de recalcamentos jamais aflorados às consciências (em relação directa não apenas com a representação do comunismo na narrativa da ditadura, mas também com uma questão central que divide os detractores entre si: a propriedade tomada de assalto com as nacionalizações selvagens durante o PREC).
O actual discurso sobre a suposta ilegitimidade da maioria parlamentar liderada pelo PS visa antes de mais o PCP, a que o actual PSD e o CDS (sobretudo o CDS) não reconhecem legitimidade democrática, abusivamente confundindo a acção política do PCP no País depois de 1975 com factos históricos pretéritos como a revolução bolchevique ou a ditadura estalinista. Mas o PCP tem nisso grande responsabilidade: pelo silenciamento e ausência de autocrítica a que votou o PREC, quantas vezes evocado como uma ideia de apogeu democrático, quando na verdade foi um momento de auge libertário, que é coisa diversa; pela diabolização do 25 de Novembro, – o grande tabu ; pelos compromissos inacreditáveis que mantém com regimes anti-democráticos; pela eternização da sua vocação de oposição depois de 75, a que só agora pôs cobro.
Tenho um amigo russo, nascido nos anos 1960, que diz que tem dentro dele um soldado a marchar. Diz que já tentou várias vezes libertar-se desse soldado mas que não consegue – que o tipo não se vai embora e parece ter corda para sempre. É o que faz às pessoas a política do espírito, que a coligação PàF tem procurado fazer ressuscitar com anacrónica premência. Agora reclamando novas eleições.
A memória é um espelho multiforme de construções por vezes disformes. Mas a Democracia merece uma História contada com um mínimo de distanciamento emotivo, e os partidos políticos deveriam ter nisso especiais responsabilidades, atendendo a que não são empresas competindo a qualquer custo democrático por um mercado, mas representantes do povo num dado momento, por ele eleitos para fazer política e não negócios nem ajustes de contas com a História.
1 Pingback